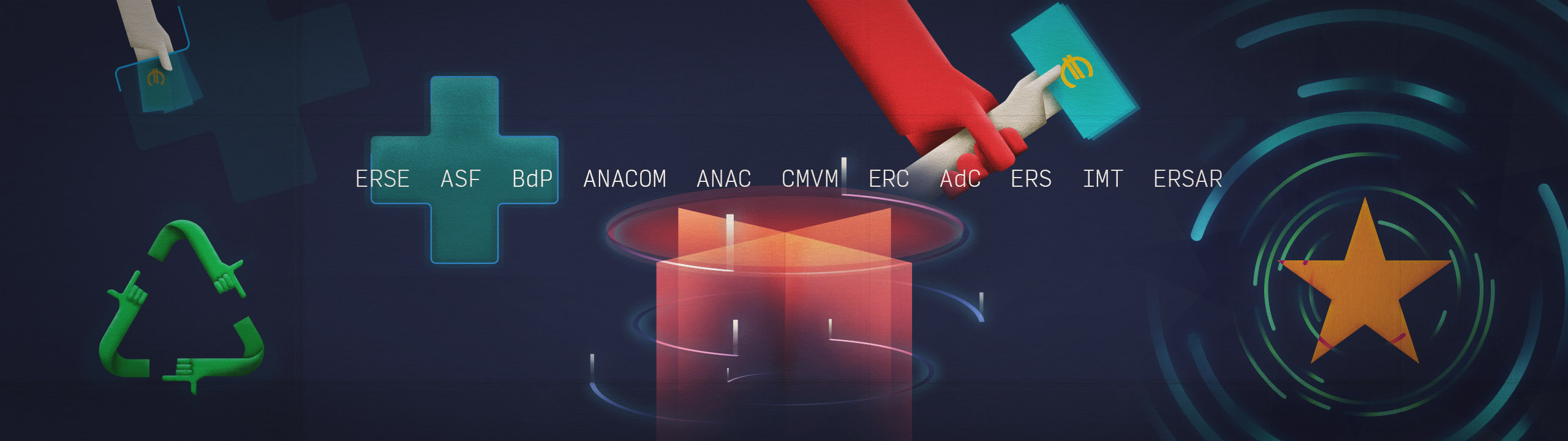Os polícias dos mercados
A lei chama-lhes “Entidades Administrativas Independentes com Funções de Regulação”. São uma espécie de “polícias dos mercados” e, sob a lei-quadro criada em 2013 por iniciativa do Governo de Pedro Passos Coelho, têm autonomia financeira e independência para regular a atividade económica dos setores privado, público e cooperativo. Mas, na prática, são independentes só de nome.
“A maior parte dos reguladores em Portugal tem um problema de independência, a adicionar à falta de legitimidade democrática”, defende Luís Fábrica à Renascença. “Em muitos casos”, aponta o professor de Direito Administrativo da Universidade Católica, “não temos entidades verdadeiramente independentes, temos híbridos, entidades semi-independentes cujos titulares o Governo nomeia e exonera”.

A lei-quadro de 2013 promete-lhes autonomia financeira, mas o ministro das Finanças cativa-lhes milhões de euros, impedindo a realização de missões fundamentais na sua função de reguladoras, como auditorias, ações de fiscalização ou buscas com origem em suspeitas de conluio na contratação pública. Essa captura de verbas próprias do regulador pelo Orçamento do Estado acontece com todos, até com a Autoridade da Concorrência (AdC), considerada o porta-aviões da regulação.
Além de lhes capturar as finanças, o Governo exonera e nomeia livremente os administradores das entidades reguladoras, podendo inclusivamente ir contra a posição da Assembleia da República e da Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública (CReSAP), os dois organismos que dão pareceres sobre cada decisão do executivo.
Já em relação aos mercados regulados, há mais mecanismos para evitar a captura. Mas o setor financeiro continua a ser uma área crítica de “promiscuidade” entre reguladores e regulados, acusam especialistas ouvidos pela Renascença.
Durante anos, o Banco de Portugal (BdP) foi “a casa da sogra”, com administradores e diretores a circular livremente entre a banca privada e o supervisor sem que ninguém questionasse os conflitos de interesses no processo. O problema é que quando regulador e regulado são “amigos”, ninguém desconfia de ninguém. Foi preciso que rebentasse o escândalo da banca e da sua supervisão para que o BdP pusesse trancas às chamadas “portas giratórias”. As regras passaram a ser mais apertadas em 2018, mas não tanto que impeçam os administradores do BdP de serem acionistas de bancos que supervisionam.
No debate sobre regulação, começa a exigir-se uma avaliação de custos e benefícios – porque os reguladores se pagam caro, porque apesar do estatuto de independência contam para efeitos do apuramento da despesa pública e da prestação de contas a Bruxelas e porque as coimas e taxas que cobram acabam por ser pagas pelos consumidores.
Há mais transparência. Mas chega?
Quando foi aprovada há seis anos, a lei-quadro veio definir um conjunto de instrumentos para assegurar a independência efetiva das autoridades reguladoras perante o poder político e perante os restantes agentes dos setores regulados, entre eles um referente à nomeação dos administradores.
Até à entrada em vigor da lei 67/2013, os órgãos de cúpula das entidades reguladoras eram nomeados por resolução do Conselho de Ministros, por proposta ou das Finanças ou do ministro da tutela. Era, portanto, um processo de seleção completamente controlado pelo Governo e em que este tinha total discricionariedade.
Foi assim durante anos. Até 2013, quando, sobretudo pela pressão exercida por organismos internacionais como a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento da Europa (OCDE), a Assembleia da República aprovou a lei-quadro 67/2013 com o objetivo de dar ao processo de recrutamento dos dirigentes das entidades reguladoras mais garantias de independência.
Sob a nova lei, o procedimento de seleção continua a ser desencadeado pelo Governo. A diferença é que os nomes dos selecionados são sujeitos a parecer da Comissão de Recrutamento e Seleção da Administrativa Pública (CReSAP), que se pronuncia sobre a “adequação do perfil do indivíduo às funções a desempenhar, incluindo o cumprimento das regras de incompatibilidade aplicáveis”, é referido no site da instituição. Com o parecer da CReSAP, os dirigentes propostos pelo Governo devem depois ser ouvidos na comissão parlamentar competente.
Este novo regime “é bastante mais transparente do que o anterior”, admite Jorge Silva Martins num artigo sobre a designação dos administradores das entidades públicas reguladoras e independência, integrado no livro “O Governo da Administração Pública” (Almedina, 2013). Contudo, o jurista reconhece que a lei não confere qualquer poder de veto sobre as escolhas do Governo quer à CReSAP quer à Assembleia da República. “O legislador poderia e deveria ter ido mais longe quando desenhou o novo modelo de seleção dos membros dos órgãos executivos das autoridades reguladoras”, defende.
Nem todos concordam. João Bilhim, ex-presidente da CReSAP, defende que, tal como está, “o sistema dá garantias suficientes” de que a posição da entidade que dirigiu entre 2012 e 2015 “não cai em saco roto”.
“O facto de o parecer da CReSAP ser obrigatório, mas não vinculativo, não é assim tão relevante, uma vez que o processo é público”, argumenta em entrevista à Renascença. “Será depois o povo a julgar o comportamento do Governo. Em relação aos nomeados, o parecer da CReSAP tem sempre de ser publicado, seja positivo ou negativo, e o Governo depois sofre as consequências das escolhas que faz.”
No caso das nomeações dos administradores das entidades reguladoras, João Bilhim sublinha que há ainda um segundo crivo. Depois do parecer técnico da CReSAP, os escolhidos pelo Governo são sujeitos ao escrutínio político da Assembleia da República, onde são “espremidos”, e o parecer dos deputados também é publicado.
“Penso que é uma solução equilibrada”, ainda que o sistema não dê garantias absolutas, adianta. “Quando se analisa a independência de um órgão regulador, é preciso olhar sempre para o sistema e para a pessoa. O essencial está nas pessoas, não no sistema. E o que é verdade para os reguladores também é verdade para a CReSAP” – ou seja, “a forma como a instituição exerce as suas competências depende de quem é o seu titular, do perfil de quem lhe preside”.
Há a tentação de os partidos políticos que são Governo distribuírem os lugares da Administração Pública entre amigos e apoiantes, reconhece Bilhim. Mas para o ex-dirigente da entidade que aprova os candidatos a altos cargos públicos, isso decorre de “um traço cultural muito atávico em todos os países do sul da Europa”, algo que explica com recurso a uma metáfora.
“O que é a política? A política é a guerra em tempo de paz. Ora, o que o vencedor da guerra faz é distribuir os despojos do vencido. Que mal há então que, em tempos de paz, o vencedor das eleições distribua os despojos entre os seus? Isto é um traço cultural que ainda nos marca.”
Susana Coroado, que está a concluir uma tese de doutoramento sobre “Os riscos de captura das entidades reguladoras”, não discorda, mas reconhece os riscos desta falta de independência no processo de escolha dos dirigentes.
“A lei prevê mecanismos destinados a evitar a captura pelos regulados, mas não pelo poder político”, sublinha a investigadora do Instituto de Ciências Sociais da Universidade Nova de Lisboa em conversa com a Renascença. “O Governo continua a nomear, através de deliberação do Conselho de Ministros, os administradores das entidades reguladoras. É verdade que depois os nomes indicados ainda passam pelo crivo da CReSAP e da Assembleia da República, mas nenhuma delas tem qualquer poder de bloquear a decisão do órgão executivo. O Governo, se quiser, vai contra a posição das duas entidades.”
Não faltam exemplos de nomeações político-partidárias para as entidades reguladoras. Vejam-se os casos do deputado socialista Ascenso Simões, que saiu do Governo para dirigir o regulador dos serviços energéticos (ERSE) e que, dali, foi para a Assembleia da República. Ou o caso de Teixeira dos Santos, que depois de ter sido secretário de Estado do Tesouro foi nomeado para presidir ao conselho diretivo da CMVM, tendo deixado o regulador para assumir funções no Ministério das Finanças nos dois Governos de José Sócrates. Um caso mais recente: o de Elisa Ferreira, ex-deputada ao Parlamento Europeu que voltou de Bruxelas para, em junho de 2016, se tornar administradora e, mais tarde, vice-presidente do Banco de Portugal, de onde saiu este ano para mais um cargo de nomeação política, de comissária europeia, por designação do Governo de António Costa.

Crédito: Olivier Hoslet/ EPA
Sobre as nomeações mais recentes, Susana Coroado reconhece que a Assembleia da República teve uma intervenção mais ativa. Dá como exemplo o caso de Carlos Pereira. Nomeado pelo Governo para vogal da ERSE, o seu nome teve parecer positivo da CReSAP mas acabaria chumbado pela Comissão Parlamentar de Economia, Inovação e Obras Públicas “por falta de competência técnica e de experiência”. O embaraço político acabou por ser resolvido quando o próprio Carlos Pereira se declarou indisponível para assumir o cargo. Foi o segundo deputado socialista nomeado pelo Governo de António Costa para a ERSE, depois de Mariana Oliveira, antiga adjunta do secretário de Estado Jorge Seguro Sanches e hoje vogal no regulador dos serviços energéticos.
Quanto custam e será que valem a pena?
“A pouca eficácia demonstrada por alguns reguladores, cuja existência nem sequer se justifica, contrasta com o custo que representam para o Estado, porque têm administrações principescamente pagas”, critica Ascenso Simões em entrevista à Renascença. O que se passa, explica, “é que a lei-quadro diz que o vencimento dos reguladores é definido por uma comissão de vencimentos que fixa, para todos os presidentes dos reguladores, vencimentos que são três vezes superiores aos do primeiro-ministro”.
Uma fonte que participou na elaboração da lei-quadro de 2013 lembra à Renascença que” se tentou que ficasse como limite o ordenado do primeiro-ministro, até porque o país estava no auge da crise e seria escandaloso que, quando estavam a ser impostos enormes custos à população, se permitisse que os administradores das novas entidades tivessem ordenados superiores ao do primeiro-ministro”. A mesma fonte refere que “as pressões foram tantas, incluindo da troika, que temia pela perda de independência dos reguladores, que o ordenado do primeiro-ministro ficou apenas como um valor de referência, entre vários outros, a ter em conta na fixação do vencimento dos administradores”.
Por regra, “as administrações dos reguladores ganham muito acima da média”, critica Ascenso Simões. “Há reguladores onde o salário de um vogal da administração é o dobro do salário do primeiro-ministro.” E isso não acontece apenas nos reguladores mais importantes, é uma realidade também em reguladores setoriais cuja razão de existir é contestada, aponta o deputado. ”No regulador dos transportes, que ninguém sabe bem o que regula, há cinco administradores”, exemplifica.
Na ANACOM, o novo presidente, de uma assentada só, decidiu recrutar em novembro 13 diretores, com salários que variam entre cerca de 5.500 e 7.090 euros brutos mensais, bem acima dos vencimentos brutos do Presidente da República (cerca de 6.700 euros mensais) e do primeiro-ministro (4.900 brutos mensais). Esta renovação nos cargos de direção do regulador das telecomunicações causou surpresa, pela escala sem precedentes em que foi feita, e, apontam fontes à Renascença, causou algum mal-estar interno, que veio somar-se ao clima de tensão que a ANACOM vive quer com o Governo quer com os regulados.
João Cadete de Matos, presidente da reguladora desde agosto, está sob fogo cruzado das empresas de telecomunicações e do ministro da área. Em causa, a instalação do 5G, a quinta geração de comunicações móveis. Por causa dos atrasos que estão a verificar-se num processo que é considerado a maior revolução digital desde o smartphone, a Vodafone e a NOS avançaram com processos judiciais contra a ANACOM. E a Altice pediu já várias vezes a demissão de João Cadete de Matos. Também o Governo mandou já vários recados ao regulador, que responsabiliza pelos atrasos no processo do 5G.
Pedro Mota Soares, secretário-geral da Associação dos Operadores de Telecomunicações, argumenta em entrevista à Renascença que “a revolução tecnológica 5G não é só mais uma oportunidade de negócio para as empresas do sector, é um desafio estratégico para o país”. O dirigente da Apritel lembra que “o processo tem de estar concluído no primeiro semestre de 2020” e destaca: “Portugal, que tem estado na linha da frente na área tecnológica, está agora a deixar-se ficar para trás.”
Mota Soares reconhece que “há uma enorme preocupação de toda a gente – operadores, agentes económicos e Governo – porque estamos todos a constatar que, a menos de sete meses do fim do processo, ainda não são sequer conhecidas efetivamente as condições em que o leilão das frequências vai acontecer, por isso tem havido um conjunto de críticas ao regulador”. Isto porque “Portugal é um dos países mais atrasados no processo de instalação da rede móvel de quinta geração”, processo esse que, refere, “começou tarde e cujas etapas muito curtas colocam dificuldades acrescidas aos operadores do mercado das telecomunicações”. “Estamos a fazer tudo com pouco tempo e pouca capacidade de diálogo”, acusa.
Fontes ligadas ao processo dizem à Renascença que o diálogo com o novo presidente da ANACOM é praticamente inexistente. João Cadete de Matos não é da área, veio de outro regulador, o Banco de Portugal, circunstância que talvez explique as dificuldades que tem enfrentado no exercício da regulação num setor que é “um tanque de tubarões”. Em declarações públicas, mantém que ”está a cumprir o calendário” e que “não se deixa condicionar e continuará a agir com rigor e total firmeza em defesa da concorrência e da proteção dos consumidores”.

Crédito: António Cotrim/Lusa
O secretário-geral da Apritel defende que o que está a passar-se com a gestão do processo 5G pela ANACOM era uma boa razão para “seguirmos o exemplo de outros países europeus que já estão a fazer a avaliação do impacto regulatório”.
“É uma recomendação quer da OCDE quer da Comissão Europeia”, refere Mota Soares. “Em Portugal tem-se falado muito da avaliação do impacto legislativo, mas devíamos fazer também a avaliação do impacto da regulação.”
O debate já está em curso na Europa. Vários países têm estado a avaliar os custos e benefícios da regulação, analisando em particular o seu impacto para as finanças públicas. Em concreto, pretende-se conhecer os custos e os benefícios regulatórios para a sociedade, através de entidades independentes, porque os custos de funcionamento dos reguladores acabam por se repercutir nos preços que os cidadãos pagam pelos bens e serviços que são alvo das taxas e das coimas cobradas pelos “polícias do mercado”.
É aquilo a que um especialista em finanças públicas chama de “custos parafiscais” e que se somam “à brutal carga de impostos paga pelos portugueses”. Mas também porque, muito embora a lei lhes atribua um estatuto de independência e alguma autonomia financeira, são entidades públicas pelo que representam um custo para o Estado, contabilizado para efeitos de apuramento da Despesa Pública e de prestação de contas a Bruxelas.
O Tribunal de Contas de Portugal não está à margem desta reflexão. A avaliação do financiamento das entidades reguladoras foi incluída entre as prioridades do tribunal para este ano. A ideia é perceber em que medida entidades que antes da lei-quadro de 2013 estavam sob a tutela direta do Governo (algumas eram institutos públicos) foram capazes de se tornar verdadeiramente independentes. Na análise desta questão, o foco está na efetiva autonomia financeira, sem descurar a forma como são nomeados os administradores dos reguladores – em que medida não estão dependentes do Orçamento do Estado e se pode de facto dizer que “se pagam” com receitas próprias. Até porque algumas dessas receitas, que os reguladores reivindicam como suas, podem estar impropriamente classificadas como próprias.
Perceber que consequências têm as decisões tomadas pelos reguladores poderia também ajudar a perceber em que medida faz sentido, num país com a dimensão de Portugal, ter tantos reguladores. Quer no caso dos transportes (AMT), quer no caso da aviação civil (ANAC), quer ainda no caso da saúde (ERSE), o deputado socialista Ascenso Simões, também ele um ex-regulador (da ERSE), considera que estamos perante “reguladores que não são reguladores”, antes “meras direções gerais”. Em entrevista à Renascença, o histórico militante socialista diz que “o país devia ponderar se efetivamente precisa de reguladores nessas áreas”.
“Temos mais entidades de regulação do que a média dos países europeus. E a troika quando veio, em vez de resolver o problema, manteve-o”. Ascenso Simões cita o caso da saúde e questiona: ”Faz sentido, num país onde o SNS tem o peso que tem, ter um regulador? Há países na Europa onde o setor privado tem um peso muito superior e que não têm qualquer regulador para a área da saúde”.
Para Paulo Otero, “é importante perceber se, de facto, todas as entidades reguladoras são verdadeiramente independentes ou se são uma ficção”, até porque esta “desmultiplicação de entidades reguladoras independentes é uma forma de desresponsabilização decisória por parte do Governo”, diz à Renascença. A par disso, é “uma forma de este não prestar contas na Assembleia da República sobre aquilo que deixou de estar na sua dependência, para passar a estar na zona de influência de uma autoridade independente”, refere. Na opinião do especialista em Direito Administrativo, “há alguma perversidade” em tudo isto, “porque dessa forma o Governo liberta-se de assumir publicamente a responsabilidade em determinadas áreas”.
“Um excessivo número de autoridades reguladoras, sem terem na sua raiz uma razão de ser, diminui o estatuto constitucional do Governo enquanto órgão superior da Administração Pública”, defende o jurista da Faculdade de Direito de Lisboa.