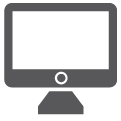Fernando Rosas tinha 6 anos quando entrou, pela primeira vez, na Prisão do Aljube. Foi com o pai e o irmão visitar o avô Filipe, um velho republicano preso por se opor à ditadura. Três gerações unidas naquele parlatório escuro e constantemente patrulhado. Um retrato do que foi a Prisão do Aljube entre 1928 e 1965: um depósito para milhares de homens presos pela PIDE por motivos políticos.
Na primeira visita ao Aljube, Fernando Rosas ficou impressionado e revoltado. Sabia que o avô não era criminoso. Não percebia bem porque o tinham prendido. Doze anos depois, também ele e o irmão, na altura ligados ao PCP, entrariam por aquela porta, subiriam a escadaria de pedra, e seriam enfiados nos curros por serem “do contra”.
O edifício do Aljube, situado junto à Sé de Lisboa, nasceu para ser uma prisão. Primeiro, durante a ocupação muçulmana de Lisboa, no século VII, depois como prisão eclesiástica. Após a revolução liberal, passa a acolher presos de delito comum, transforma-se, a seguir, em prisão de mulheres. Menos de dois anos depois da implantação da ditadura passa a acolher “presos políticos e sociais”, sem julgamento ou que aguardavam embarque para o desterro.
Os curros

Pormenor dos curros, reconstituídos na Exposição "A Voz das Vítimas", realizada em 2011. Créditos: Fundação Mário Soares
Os curros eram a imagem de marca do Aljube. “Havia uma ante-câmara que tinha uma prateleira para o preso pôr as coisas que não podia ter consigo: o relógio, o cinto, os cordões dos sapatos. Lá dentro, nada”. Carlos Brito tinha 23 anos e era militante comunista quando conheceu o Aljube. Depois de vários dias na tortura do sono, na Rua António Maria Cardoso, sede da PIDE, foi conduzido ao curro 7. Mudou, pouco depois, para o 12 e por lá ficou durante quatro meses, num espaço de um metro e meio por dois e vinte, sem luz, apenas com uma cama, ou “bailique” que, quando se baixava, ocupava todo o espaço.
No mais total isolamento e solidão, os presos incomunicáveis aguardavam que os viessem buscar para os interrogatórios e mais torturas. Uma espera feita de vazio, onde não eram permitidos nem caneta, nem lápis, nem papel, nem jornais, nem livros, nem relógio. Para passar o tempo, Carlos Brito fazia ginástica e declamava poesia. “Eu desde muito jovem que gosto muito de poesia e sabia muitos poemas de cor. Ainda sei. De modo que, de vez em quando, fazia o meu recital. Exercitava a voz e ia rememorando. Também fazia ginástica. O espaço era pequeno mas eu acomodava-me, e assim me mantinha em forma”.
Mas o que mais ocupou Carlos Brito durante os meses em que esteve preso no Aljube foi a preparação da fuga, uma das poucas naquele estabelecimento. “Logo que chegámos a esta cela, que era uma enfermaria desactivada, vimos que as grades não eram tão grossas como as outras e que havia um algeroz que corria ao longo do prédio, ou seja, havia condições para fugir”.
"Andam gatos no telhado"
Banda desenhada, da autoria de Sara Farinha, publicada na Revista História nº28, Setembro de 2000 Créditos: Fundação Mário Soares
Os planos começaram a avançar quando Carlos Brito passou dos curros para uma antiga enfermaria situada no quarto andar. Américo de Sousa e Rolando Verdial, também do PCP, foram os parceiros escolhidos para a fuga. Blanqui Teixeira ficou porque tinha vertigens. Na sola do sapato de um camarada entrou a serra e nos meses que se seguiram foram serrando as grades, sempre durante as horas da visita, aproveitando o barulho para abafar o som da serra. Os cortes eram disfarçados com miolo de pão pintado de cinzento. Na noite escolhida para a fuga, cortaram a grade que faltava, dos lençóis fizeram cordas, ataram os sapatos à cintura e fugiram pelos telhados. O carro que os devia esperar, não estava lá. Um táxi apanhado no Largo da Graça foi, sem saber, o cúmplice final da fuga.
“Aqui só dão pastéis de nata aos presos”
Dois anos depois, Carlos Brito seria de novo preso. Dessa vez não foi para o Aljube e portanto não se cruzou com Domingos Abrantes, também ele militante do PCP, na altura com 23 anos. Era a primeira vez que “ia dentro”. “Fui preso, pela primeira vez, na rua, na Amadora. Eles sabiam que eu era clandestino mas não sabiam quem eu era. Levaram-me directamente para a António Maria Cardoso. Perguntaram quem eu era, eu não disse, e mandaram-me para a tortura do sono. Dessa vez só lá estive três dias e três noites e depois vim para aqui”. Seguiram-se sete meses de isolamento. “Engordei muito. Entrei com 52 quilos mas como passava o dia sentado e deitado, não me mexia, engordei imenso”.

Domingos Abrantes, dias depois de ter dado entrada na cadeia do Aljube.
Cá fora, a família apoquentava-se. Conscientes de que Domingos Abrantes era, já nessa altura, um elemento importante na organização do PCP, a polícia política não dava tréguas aos familiares e amigos. Durante meses, a irmã procurou, sem sucesso, visitá-lo. As suas ameaças de vir para a rua acusar a PIDE de ter morto o irmão, acabaram por lhe valer uma visita, breve, ao parlatório do Aljube. Queria saber se Domingos era bem tratado mas a verdade sobre as condições deploráveis da cadeia não passava no crivo dos guardas, atentos a todas as palavras. “Se me tratam bem? Aqui só dão pastéis de nata aos presos”, respondeu, com ironia.
Do Aljube, Domingos Abrantes passou para Caxias, de onde escaparia em pleno dia, no velho Mercedes à prova de bala, oferecido por Hitler a Salazar. Uma fuga espetacular mas de pouca dura. Preso de novo, Domingos Abrantes chegou à Revolução com a “bonita” soma de 11 anos de cadeia, a maior parte dos quais passados em Peniche. “Costumo dizer que foi a terra onde vivi mais anos sem nunca a conhecer”.
"Pensei que nunca mais via jogar o José Águas"
Bem menos penalizados foram, apesar de tudo, os 50 presos da revolta estudantil de 1965. José Medeiros Ferreira, então secretário-geral da Reunião Inter Associações, o organismo que coordenava o movimento estudantil, cumpriu três meses, sem culpa formada. Para passar o tempo, fumava, um cigarro de hora a hora. Nunca tinha fumado antes e não voltaria a fumar depois. Entre baforadas, pensava no momento em que seria libertado: “Eu gostava muito de um grande jogador de futebol, que estava a chegar ao final da carreira, chamado José Águas, e interrogava-me muitas vezes sobre se ainda sairia a tempo de ver o José Águas jogar no Estádio da Luz”. Ainda viu o seu jogador favorito na Luz. Ainda viveu para nos contar esta história. Morreu pouco depois desta entrevista, a 18 de Março deste ano.
O cárcere tornar-se-ia bem menos penoso depois da transferência para uma cela no quarto andar. Já lá estavam o pintor Nikias Skapinakis e o nacionalista angolano Joaquim Pinto de Andrade. As noites dividiam-se entre conversas políticas sussurradas e relatos de filmes, verdadeiras sessões de cinema sem tela nem projecção. Durante o dia, as cantigas entoadas pelas raparigas que viviam nas traseiras da prisão ajudavam a passar o tempo. “Aqui por trás havia um bairro popular e havia umas meninas que cantavam todo o dia. Acabei por me distrair a ouvir essas cantigas populares, aliás bem cantadas. As meninas deviam ter uns 10 anos. Digo isso pela voz, porque nunca as conheci”.
“Houve quem cortasse a língua para não falar”
As melodias populares das raparigas que viviam no Beco do Aljube, e o som dos rádios, sintonizados com o volume no máximo à hora dos noticiários ou quando havia jogo, fazem também parte das memórias auditivas de Fernando Rosas. Preso em 1965, no processo dos estudantes, Rosas entrou no Aljube com o irmão, Filipe. Tinha apenas 18 anos e era membro do PCP.
Ficou “instalado” no curro 13, o último do corredor. Isolado, comunicava com o vizinho do lado através de um código rudimentar de pancadinhas na parede: uma pancada era o A, duas pancadas o B. Foi assim que conheceu grandezas e misérias. “Houve presos que não aguentaram. Houve presos que cortaram a língua para não falar, como o José Rolim, e eles só descobriram quando o sangue começou a correr debaixo da porta. No meu processo, houve um homem, o Fernando Beta Neves, que partiu os óculos e engoliu os vidros para não correr o risco de falar. Casos terríveis de desespero”.
Sozinho e sem nada com que se entreter, usava o miolo de pão para esculpir minúsculos companheiros de infortúnio, e pensava. “Eu acho que o pensamento dominante era como é que se vai aguentar. As pessoas que cá caíam por motivos políticos sabiam que a prova a seguir era a prova da tortura. Toda a concentração era saber como é que se ia resistir”. Rosas resistiu, saiu em liberdade, e continuou a resistir. Voltou para a cadeia, desta vez para Caxias, em 1971. O Aljube, entretanto, tinha sido encerrado, por pressão de movimentos de protesto, portugueses e estrangeiros, contra a total falta de condições do edifício.
“Distinguia a minha mulher pelo gorro”
Mário Lino foi na mesma leva de Fernando Rosas, a 21 de Janeiro de 1965. Entrou um pouco mais tarde que os outros porque tinha casado e mudado de casa três semanas antes e a PIDE ainda não tinha actualizado a morada. Era acusado de pertencer ao PCP, e pertencia mesmo, mas a polícia nunca conseguiu provas dessa militância. “O PCP tinha uma organização muito compartimentada, em que as pessoas sabiam muito pouco umas das outras. Depois do 25 de Abril, houve muita gente que eu conhecia bem, que era do PCP, e que não me passava pela cabeça”.

Mário Lino, fotografado pela PIDE no dia em que foi preso
Às semanas de isolamento, enquanto duraram os interrogatórios, seguiram-se mais algumas numa cela partilhada. O convívio fazia-se com jogos de palavras e foguetões construídos com as pratas dos maços de cigarros e postos a voar com cabeças de fósforo incendiadas. Era Mário Lino, o único engenheiro do grupo, o autor dessas proezas. Da janela, ouviam os companheiros que, na rua, pediam a sua libertação. Os vidros demasiado sujos e o ângulo de visão quase não lhe permitia ver quem gritava na rua mas Mário Lino distinguia a mulher pelo gorro encarnado.
Lino não voltou à prisão e recorda a experiência sem angústia. Só não esquece mesmo a qualidade deplorável da comida que fazia as vezes das refeições. Saiu do Aljube tão esfomeado que, mal se viu em liberdade, foi à Pastelaria Mexicana e comeu uma lampreia de ovos inteira. A fome de liberdade só seria satisfeita nove anos mais tarde, na madrugada do dia 25 de Abril de 1974.