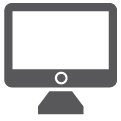Entre 1974 e 1975, meio milhão de pessoas desembarcaram em Portugal vindas das ex-colónias. Chamaram-lhes retornados, apesar de muitos não terem nascido aqui. A vida nunca mais foi igual, nem para quem veio nem para quem cá estava. Nos 40 anos da independência de Angola, recordamos histórias de quem chegou ainda menino e moço mas jamais esqueceu que, um dia, tinha vivido em África.
por Dina Soares e Joana Bourgard
No dia 11 de Novembro de 1975, Angola tornou-se um país independente. Para trás, ficavam quase 500 anos de presença portuguesa e 13 anos de guerra pela libertação. Esperavam-na mais 27 anos de uma guerra civil que matou meio milhão de pessoas, provocou mais de um milhão de deslocados arrasou infraestruturas, empreendimentos económicos, instituições.
Em pouco mais de um ano, entre o Verão de 1974 e o Verão de 1975, chegaram a Portugal, vindas das ex-colónias, cerca de 500 mil pessoas. Mais de metade veio de Angola, nos 905 voos de Luanda e Nova Lisboa para Lisboa ou pelos seus próprios meios.
Entre os retornados – palavra que os repugna mas também que os une – cada um tem sua história. Os mais velhos relatam dificuldades, falta de emprego, de casa, de dinheiro, de tudo. Os mais novos – adolescentes ao tempo da independência – guardam na memória dias de liberdade e descontração. Maria José, Isabel e Paula tinham entre 12 e 17 anos quando regressaram. Cresceram e fizeram-se adultas em Portugal mas África corre-lhes no sangue. Bruno já nasceu cá, as memórias de Angola são do pai, que fez dele o cofre das suas recordações africanas.
“Em Vila Meã chamavam-me a preta”
Maria José Araújo veio de Corimba, “na saída sul de Luanda”. Foi ali que viveu até aos 16 anos. Em 1974, já depois do 25 de Abril, visitou pela primeira vez a metrópole, como era designado o Portugal continental. A mãe achou que estava na idade de conhecer a família. Ficou o tempo das férias, conheceu avós, primos, tios e regressou a Corimba para seguir com a sua vida.
Quando voltou, estava tudo mudado. Muitas pessoas já tinham ido embora, outras preparavam-se para sair, “prá semana, no mês que vem”. Situações que a entristeciam mas que não lhe diziam respeito. Maria José nunca pensou em deixar Angola.
No entanto, um ano depois, em Junho de 1975, estava de novo a embarcar para Lisboa. Oficialmente, vinha de férias. “Eu não tinha muita noção do que estava a acontecer mas a minha mãe sabia. Tanto que, quando saímos, ela fechou a porta de casa e deitou a chave fora”. Nem esse gesto alertou Maria José. “Aquilo havia de passar”. Mas não passou. O pai, emigrado em Angola desde meados dos anos 50, ainda regressou, com o pretexto de ir buscar uma arma. Na verdade, foi apenas dizer adeus a Luanda.
E, de repente, Maria José estava a viver em Vila Meã, uma pequena aldeia entre Penafiel e Amarante. “A aldeia era muito fechada, fazia muito frio, a casa era velha, isolada, não tinha luz à volta”. Maria José detestava tudo e só queria sair dali. Percebeu que tinha vindo para ficar quando a tia a levou a um armazém no Porto para comprar umas botas e um casaco comprido. “Foi aí que me caiu a ficha”.

Maria José em Corimba
Revoltada, Maria José vestia-se “à africana”: cabelos rebeldes, brincos e colares vistosos, socas. Era uma rapariga diferente “numa aldeia meio feudal”, olhada de lado pelos vizinhos que passaram a chamar-lhe “a preta”. Maria José exibia a alcunha com orgulho.
Voltou a Luanda 30 anos depois, com uma amiga. “Foi um delírio. Íamos no ar à espera que acontecesse o que desejámos há anos, incrédulas. Chegámos a Luanda num domingo às oito da noite. Normalmente, a essa hora estava em Vila Meã a jantar com os meus pais. Nesse dia estava em Luanda. Passámos os dias todos a rir, a rir, apesar de a cidade estar muito destruída, de haver lixo por todo o lado. Era a minha terra. Ainda é”.
“Sou uma europeia com saudades de África”
Podem três anos mudar uma vida? A vida de Isabel Rocha e Melo mudou para sempre nos escassos três anos que viveu em Luanda. O pai, “um velho africanista”, como diz sempre que fala dele, vivia há muitos anos em Angola quando a mulher e os seis filhos desembarcaram em Luanda, depois de uma longa viagem a bordo do paquete Infante Dom Henrique. “Os nossos primos que já viviam lá foram-nos esperar e qual não é o nosso espanto quando eles aparecem vestidos de inverno, porque era o cacimbo, e nós a bufar de calor”. Isabel tinha 14 anos e África foi amor à primeira vista.
“Saí daqui de bata preta e saia por baixo do joelho e cheguei a um liceu de bata branca e mini-saia. Entrei num país colorido”. A liberdade imensa da vida africana foi o que mais a deslumbrou: “Foram anos absolutamente estruturais na minha formação. Moldaram a minha maneira de ser para sempre”.
Só que o sonho acabou depressa. Três anos depois de chegar a Luanda, Isabel e os irmãos tiveram que regressar a Lisboa. O retorno começou a adivinhar-se logo a seguir ao 25 de Abril: as aulas do liceu interrompidas por bandos armados, o súbito distanciamento entre brancos e pretos, a bomba que explodiu no cinema Tivoli, junto à casa de Isabel, e cujo estrondo o pai atribuiu ao rebentamento de algum esquentador, tal era o espanto com a chegada de guerra ao dia a dia da cidade.
Após o regresso da família, o pai de Isabel ainda ficou em Angola durante alguns meses, “para salvar nada, porque perdeu tudo”. “A minha vida nunca mais foi a mesma, nunca mais fui a mesma pessoa”. De volta a Lisboa, ainda tentou reproduzir a vivência angolana. Não conseguiu e, mal terminou o liceu, emigrou para a Bélgica.

Isabel Rocha e Melo viveu em Luanda dos 15 aos 17 anos
O pai entristeceu e morreu poucos anos depois. Isabel ainda hoje se interroga sobre os medos e as invejas que os chamados retornados provocavam em quem cá vivia. “De facto, éramos diferentes porque éramos livres e Portugal era muito pouco livre”.
Isabel voltou a Luanda muitos anos depois, em 1990, de visita a um dos irmãos que estava lá a trabalhar. O que encontrou foi outra cidade. “Eu passava pelos edifícios e eles não existiam, eu passava pelos coqueiros e eles estavam mortos, a ilha de Luanda era um caco. Só as pessoas eram iguais”.
11 de Novembro: o Dia da Independência
No dia 10 de Novembro de 1975, o Alto-comissário e Governador-Geral de Angola, almirante Leonel Cardoso, proclamou, em nome do governo português, a independência de Angola, transferindo a soberania de Portugal para “o povo angolano” a partir do dia 11 de Novembro. Leonel Cardoso mandou arrear a bandeira nacional, dobrou-a a foi para a Ilha de Luanda onde o aguardava um navio de guerra que o trouxe para Portugal.
Ao mesmo tempo, cada um dos três movimentos de libertação proclamou a independência. Holden Roberto, líder da Frente Nacional de Libertação de Angola (FNLA), fez a proclamação no Ambriz, um município da província do Bengo, a norte de Luanda. Jonas Savimbi, da UNITA, proclamou a independência no Huambo, antiga Nova Lisboa. Agostinho Neto, presidente do MPLA, repetiu o gesto em Luanda. Portugal reconheceu formalmente o novo país em Fevereiro de 1976.
A independência foi proclamada com base no acordo assinado em Janeiro no Alvor (Algarve), por Portugal e os três movimentos de libertação, que estabelecia a formação de um governo de transição tripartido. Mas a rivalidade entre os partidos angolanos degenerou de imediato em guerra civil, com o MPLA a dominar a capital e a expulsar as outras formações.
A descoberta do petróleo, alguns anos antes, transformou Angola num objecto de cobiça das grandes potências. Os Estados Unidos e a União Soviética encontraram ali um palco para o prolongamento da Guerra Fria. O envolvimento, directo e indirecto de outras potências estrangeiras como a África do Sul, o Zaire e até a China contribuiu para o aprofundamento das divergência internas que resultaram em 27 anos de guerra civil que só terminou em 2002, após a morte de Jonas Savimbi.
“Nós erámos um povinho à parte”
Paula Madeira nasceu em Benguela e foi lá que viveu até à independência, descontando o intervalo de três anos que passou “na metrópole”. Regressou com 12 anos e um grande sentimento de insegurança. “ Foi uma coisa muito agitada, muito tumultuosa. Não se percebia o que é que se ia passar”.
O pai era do Algarve e foi para Portimão que a família se mudou. Os primeiros anos foram vividos num hotel, em dois hotéis. O que mais a marcou foi o sentimento de falta de liberdade. “Lá havia rua para correr, para brincar. Gostava mais”. Esquecer Angola era uma impossibilidade. Porque as memórias não se apagam, mas também porque não os deixavam esquecer. “Sentia as memórias na pele todos os dias. Estávamos sempre a ser recordados da nossa condição de retornados pelas pessoas de cá, pela maneira como se dirigiam a nós. Nós éramos um povinho à parte”.
A nível material, Paula nem foi das que mais sofreu. Em Angola, a mãe era funcionária pública e quando veio, foi integrada no IARN (Instituto de Apoio ao Retorno de Nacionais), uma estrutura criada em 1975 para acolher quem vinha das ex-colónias. “A minha mãe assumiu funções de chefia no IARN mas, como era de cor, as pessoas não encararam isso muito bem, não estavam habituadas. Para os portugueses, quem era de cor não ocupava cargos”. No colégio onde andava, Paula era a única “pessoa de cor” e também isso lhe era lembrado todos os dias.
40 anos depois, Angola ainda faz parte do dia a dia de Paula. Na arte que tem em casa, no óleo de palma com que cozinha de vez em quando, no pirão que ainda gosta de comer.“E acho que devia fazer parte da vida de todos os que vieram de lá. É muito bom conseguirmos juntar as pecinhas do puzzle da nossa vida”.
A Benguela, nunca mais foi. Vai com regularidade a Moçambique. “É mesmo ao lado, está-se em casa na mesma”. Paula define-se, aliás, como uma cidadã do mundo. Viveu em Inglaterra, andou muitos anos pela Ásia, hoje pratica medicina tradicional chinesa. Angola não é um local idílico onde sonha ir para matar saudades. “Nós quando viemos, foram-nos arrancadas as raízes e conseguimos voltar a crescer em terreno fértil, em qualquer parte do mundo”.
O filho do retornado
Bruno sente-se como um cofre das memórias do pai. Nascido em Portugal, nos anos 80, nunca foi a Angola nem tem vontade de ir. Mas, às vezes, sente-se como se tivesse crescido em Luanda, a cidade que acolheu o seu pai aos 14 anos, onde o pai se fez homem e de onde nunca regressou. Ficou lá mesmo depois de ter apanhado o avião e aterrado em Lisboa em 1975.
Bruno é filho de um retornado e a herança impõe-se de tal modo que, quando escolheu um tema para a sua tese de mestrado, foi sobre os filhos dos retornados que decidiu escrever. “Os retornados empenham-se em transmitir aos seus filhos as memórias positivas dessa vivência e, de uma forma geral, há uma identificação dos filhos com as memórias dos pais”.
Na preparação da sua tese de mestrado, Bruno Machado entrevistou retornados e filhos de pessoas que vieram de África, sobretudo de Angola. O que encontrou foram homens e mulheres que cresceram “em lugares onde a África do passado terá estado sempre presente“, mergulhados em memórias vividas em segunda mão mas que influenciam a sua leitura do mundo. “Olham, por exemplo de forma bastante mais crítica para o 25 de Abril. Enquanto a maioria dos jovens recordam o 25 de Abril como um período de transição muito positiva, os filhos dos retornados lembram-no como uma época muito conturbada para as suas famílias e consideram-se injustiçados por isso”.
Têm também uma visão muito própria sobre o colonialismo ou sobre o racismo. De acordo com os dados que recolheu, Bruno conclui que os filhos dos retornados “condenam o colonialismo enquanto fenómeno sem rosto, mas absolvem sempre os seus pais desse processo e atribuem-lhes um papel muito positivo nas antigas colónias”.
O mesmo se passa com o racismo. “Quando abrem o álbum de fotografias e vêem o pai ou a mãe a conviver com negros, não encontram racismo”. A própria palavra “retornado” suscita reações contraditórias. Bruno Machado encontrou muitas pessoas que, por um lado reagem com repulsa à palavra, mas por outro exibem essa condição como uma forma de partilha de identidade, uma espécie de tribo. “Os retornados integraram-se mas não esqueceram e ainda vivem muito no passado”, remata Bruno Machado.
Quem veio de Angola gosta de falar do passado mas inibe-se, muitas vezes, de falar do presente. Fogem das críticas à falta de democracia, à pobreza, à desigualdade ou à corrupção. Questionadas sobre que país vêem quando olham hoje para Angola, Maria José, Isabel e Paula retraem-se, lamentam o país que podia ter sido e não é, confessam que não gostam muito do que está a acontecer, mas mais não dizem. Como se a realidade actual pudesse conspurcar as memórias felizes de outros tempos.
© Renascença| Novembro 2015
Músicas: "Luanda Mbolo", Bonga
"Mu Nhangoi", Bonga
"Uengi Dia Ngola", Bonga
"Mona Ki Ngi Xica", Bonga
"Música tradicional de Angola", Carlos Daio
"Tia Sessa", Oscar Neves
Fotografias de arquivo: Arquivo & Biblioteca da Fundação Mário Soares
Animação vídeo: Rodrigo Machado
Vídeos de arquivo: Reuters
Web development: Rui Costa
Site optimizado para as versões do Internet Explorer iguais ou superiores 9, Google Chrome e Firefox
© Renascença| Novembro 2015
Músicas: "Luanda Mbolo", Bonga
"Mu Nhangoi", Bonga
"Uengi Dia Ngola", Bonga
"Mona Ki Ngi Xica", Bonga
"Música tradicional de Angola", Carlos Daio
"Tia Sessa", Oscar Neves
Fotografias de arquivo: Arquivo & Biblioteca da Fundação Mário Soares
Animação vídeo: Rodrigo Machado
Vídeos de arquivo: Reuters
Web development: Rui Costa
Site optimizado para as versões do Internet Explorer iguais ou superiores 9, Google Chrome e Firefox